As primeiras
notícias dos acontecimentos em França, foram recebidas em Portugal com relativa
apreensão. A abertura dos ‘Estados Gerais’ era encarada como sintoma de grandes
mudanças no tecido social e político. Apesar de se aceitar a força de um
movimento já há muito latente na Europa, poucos adivinhariam que o trono
francês iria ruir dando origem a uma devastadora guerra que se prolongaria por
várias décadas. A Revolução Francesa constituiu um dos grandes marcos da
história, com efeitos políticos, sociais, económicos e culturais que se
mantiveram até à actualidade. Apesar de vinculados a Inglaterra, a diplomacia
portuguesa procurou não se envolver no conflito. Numa primeira fase, a da
passagem de França do Antigo Regime à monarquia constitucional (1789-1792), a
posição de Portugal foi de expectativa perante os sucessos da Revolução. Na
segunda fase, a das coligações da Europa contra a França Revolucionária
(1792-1795), Portugal viu-se obrigado a conjugar os seus interesses com os de
Espanha, participando sem proveito na Guerra do Rossilhão. Na terceira fase,
relacionada com os consulados de Napoleão (1798-1804), devido a Carlos IV de
Espanha ter escolhido a aliança francesa, Portugal sofre uma primeira invasão
em 1801. Na última fase, a do período imperial de Bonaparte (1804-1812),
verificaram-se as três invasões que marcaram significativamente Portugal. O
papel da diplomacia portuguesa durante estes longos anos de crise foi
fundamental, apesar de nem sempre ter atingido os melhores resultados. Não
obstante, mantiveram o equilíbrio político de Portugal até ao primeiro
consulado de Bonaparte. Com o desenrolar dos acontecimentos, as notícias da “Revolução de Paris”, dos
‘Estados Gerais’ e dos motins populares, iam agitando a capital portuguesa.
Falava-se de abolição de privilégios e no princípio da igualdade de todos
perante a lei, o que transmitia uma forte carga emocional. O mesmo se passou
quando foi anunciada em França uma constituição, onde ficaria gravada a
‘Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão’. Sem poder antecipar o rumo dos
acontecimentos, via-se em 1789 a vontade de renovação política e social. Era a
conquista da liberdade política e civil, a reforma da justiça, a diminuição dos
poderes da Igreja, a revisão do sistema tributário e o fim de muitos
privilégios sociais. Restava saber qual o impacto de todos estes ventos de
mudança na Europa e em Portugal.
O
papel da diplomacia portuguesa durante estes longos anos de crise foi
fundamental, apesar de nem sempre ter atingido os melhores resultados. Não
obstante, mantiveram o equilíbrio político de Portugal até ao primeiro
consulado de Bonaparte. Com o desenrolar dos acontecimentos, as notícias da “Revolução de Paris”, dos
‘Estados Gerais’ e dos motins populares, iam agitando a capital portuguesa.
Falava-se de abolição de privilégios e no princípio da igualdade de todos
perante a lei, o que transmitia uma forte carga emocional. O mesmo se passou
quando foi anunciada em França uma constituição, onde ficaria gravada a
‘Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão’. Sem poder antecipar o rumo dos
acontecimentos, via-se em 1789 a vontade de renovação política e social. Era a
conquista da liberdade política e civil, a reforma da justiça, a diminuição dos
poderes da Igreja, a revisão do sistema tributário e o fim de muitos
privilégios sociais. Restava saber qual o impacto de todos estes ventos de
mudança na Europa e em Portugal.
Enquadramento
histórico: A Revolução Francesa, antecedida pela revolução parlamentar inglesa
(1688) e pela revolução americana (1776), a Revolução Francesa de 1789 foi, sem
dúvida, a maior de todas as revoluções liberais. Este facto mede-se quer pelos
extraordinários acontecimentos que lhe deram corpo e pelas grandes alterações a
que deu origem, quer ainda pelas repercussões que causou na Europa e no Mundo.
A veemência e a violência do seu processo revolucionário só pode perceber-se
inteiramente depois de analisadas a situação de crise em que a França viveu na
segunda metade do século XVIII e as condições específicas que, entre 1789-1790,
a fizeram eclodirem. Iniciado na Primavera de 1789, com a reunião dos ‘Estados
Gerais’, o processo revolucionário francês começou por revestir a forma de
protesto aristocrático contra as prepotências fiscais e administrativas da
monarquia absoluta. Acabou por congregar, logo de seguida, o apoio da burguesia
e do povo, num gigantesco movimento de revolta contra as estruturas políticas e
sociais do ‘Antigo Regime’. O processo revolucionário francês decorreu em três
etapas políticas: monarquia constitucional (1791-1792), cuja ordem de valores
deu corpo à Constituição de 1791;
República democrática (1792-1794), de cariz
popular e socializante, dominada pela ‘Convenção Nacional’ e pela vitória dos ‘sans-culottes’;
e república conservadora, durante os governos do Directório (1795-1799) e do
consulado (1800-1804), que marcaram o regresso ao poder da burguesia e
institucionalizaram a ordem cívica. Protagonizado principalmente pela
burguesia, o êxito da Revolução Francesa ficou também a dever-se à adesão e ao
entusiasmo com que nela participaram as forças populares, que abandonaram a sua
condição de súbditos para afirmarem a sua cidadania plena.
A mensagem mais
significativa e duradoura da Revolução Francesa foi a que ficou patente no
primeiro documento oficial elaborado pelos revolucionários: a ‘Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão’ (1789), cujos princípios universais e
humanistas contribuíram para a dignificação do Homem, pelo reconhecimento dos
direitos naturais, inalienáveis e imprescritíveis, da pessoa humana.
A
Política Externa de Dona Maria, com a elevação ao trono Dona Maria I, filha de
Dom José I e de Dona Mariana Vitória, assiste-se a uma tentativa de retorno à
política joanina. Dona Maria I e aqueles que inspiraram ou apoiaram as suas
políticas, partiram da realidade portuguesa e do respeito pela reacção popular,
para operar as reformas que os tempos impunham. No plano da política externa,
regressou-se a uma acentuada preocupação de neutralidade, baseada no equilíbrio
de forças entre as potências. Pretendia-se como no tempo de Dom João V, manter
a aliança com a Inglaterra sem ter com isso de hostilizar a França ou a
Espanha. Novamente a corte de Lisboa aproximou-se da de Madrid. A Rainha viúva
Dona Mariana Vitória, irmã de Dom Carlos III de Espanha, levou a cabo esta
mesma política, como ficou demonstrado no ‘Tratado de Santo Ildefonso’ e no ‘Tratado
do Pardo’. O entendimento luso-espanhol tornou possível uma acção militar
conjunta das armadas, contra a cidade de Argel em 1784, dado os piratas
infestarem toda a costa da Península. E reflectiu-se em 1785, numa dupla união
matrimonial.
O infante português Dom João com a infanta espanhola Dona Carlota
Joaquina e o Infante de Espanha Dom Gabriel com a Infanta de Portugal Dona
Mariana Vitória. A aproximação a Madrid facilitou-nos o respeito da
neutralidade portuguesa na ‘Guerra da Independência dos Estados Unidos’, apesar
das exigências francesas quanto à cessação das facilidades prestadas por
Portugal aos navios ingleses. Sendo também vantajoso o apoio de Madrid, na
resolução satisfatória do incidente resultante da incursão armada francesa, em
Cabinda (1783). A relativa independência de Portugal face à Inglaterra, baseada
na nova política, tornou possível ao Governo português a adesão ao plano da “neutralidade armada”, elaborado em 1780
por iniciativa da Rússia, ao qual aderiram também a Prússia, a Áustria, a
Holanda, o Reino das Duas Sicílias, a Suécia e a Dinamarca. Plano que visava a
defesa dos navios neutros. A Inglaterra como potência visada, reagiu declarando
guerra à Holanda. Contudo, as circunstâncias acabaram por obrigar a Inglaterra
à ‘Paz de Versalhes’. Seguidamente Portugal autorizou a adesão da França ao ‘Tratado
do Pardo’, tornando-se mais nítido ainda o equilíbrio da posição portuguesa
entre o poder britânico e o bloco franco-espanhol. Para melhor assegurar a
independência portuguesa no plano internacional, o Governo português
aproximou-se do Império russo, potência de relevo no início do século XVIII,
com Pedro, O Grande, e da Prússia, com quem passou a ter relações diplomáticas
permanentes. A política externa traçada desde o início do reinado de Dona Maria
I, viria a ser afectada no entanto, por diversas circunstâncias. Entre elas, os
falecimentos de Dom Pedro III seu marido, e do Arcebispo de Tessalónica seu
confessor, e sobretudo, a Revolução Francesa a doença da Rainha agravou-se.
Este movimento destruiu toda a obra realizada no sentido de um relativo
afastamento da Inglaterra.
As
Reformas Internas de Dona Maria I (A Piedosa), é aclamada como a nova soberana,
em Maio de 1777. Chegada ao trono, demite o grande ministro de seu pai, Marquês
de Pombal, tido como o responsável pela perseguição aos jesuítas e grande
adversário da ‘cúria romana’. Tentou readmitir em Portugal os jesuítas expulsos
e a reabilitação da memória dos Távoras. Aconselhada pelo Arcebispo de
Tessalónica seu confessor, não leva no entanto a cabo, ambas as vontades. No
primeiro caso, a ‘cúria romana’ extinguira a referida ordem e a atitude caso
tomada, causaria um profundo mal-estar nas relações com Espanha e França. No
segundo caso, reabilitar os Távoras seria uma afronta à memória de seu pai, Dom
José I, pessoa que os condenara. À frente das grandes pastas, colocou alguns
dos homens da escola do Marquês de Pombal, como foram Dom Martinho de Melo e
Castro, Dom José de Seabra e Pina Manique, para além do Duque de Lafões e de Dom
Luís Pinto de Sousa Coutinho. No seu Reinado regressou-se às preocupações de
ordem cultural, bem patentes na fundação de estabelecimentos de ciência e
ensino, como a ‘Academia Real das Ciências’, a ‘Academia da Marinha’, a ‘Biblioteca
Pública de Lisboa’ e a ‘Casa Pia’, e de cariz religioso, como a edificação da Basílica
do Coração de Jesus e da igreja da Memória. A própria reorganização do exército
e da marinha, não é esquecida. No entanto, rapidamente a vida portuguesa foi
abalada pelas circunstâncias de ordem externa, originadas na Revolução
Francesa. Também não será difícil admitir, que a Revolução Francesa tenha tido
origem externa. Teve-a no plano do pensamento político, visto que aqueles que a
prepararam se socorreram sobretudo da experiência da vida pública inglesa,
tentando orientar a monarquia francesa no sentido do parlamentarismo. Mas não
se deve excluir que, no plano de facto, pelo aproveitamento de
descontentamentos e hostilidades, a Inglaterra tenha num momento inicial,
facilitado a eclosão do movimento revolucionário. Era a resposta ao auxílio
prestado pelos franceses aos revoltosos da América do Norte. Aliás, o Governo
inglês sentiu sobretudo durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos,
dificuldades quanto à adopção de algumas medidas céleres e adequadas, em razão
do regime parlamentar britânico. Os governantes franceses pelo contrário, sem
dependência de assembleias políticas, gozavam de muito maior liberdade de
acção. A Inglaterra, duramente atingida pela independência das colónias da
América do Norte, tinha pois, muito a ganhar com a transformação do regime
político francês no sentido parlamentar, para assim prosseguir a sua luta pela
hegemonia. Esta solução agradaria não apenas ao Governo de Londres, mas a todas
as potências rivais, a fim de abater a hegemonia francesa fundada por Luís XIV.
Não foi possível tal transformação política da França, nem através de Luís XVI,
nem através do Duque de Orléans, apontado como agente ao serviço da Inglaterra.
E como tal, os efeitos da Revolução Francesa passaram a ser motivo de
preocupação por parte das outras potências, uma vez que estes não se
circunscreviam à “simples” adopção
interna de um regime parlamentar. A Revolução apresentou-se desde o primeiro
momento, com características anárquicas, conduzida por forças anónimas, com
evidente participação de estrangeiros nas desobediências.
Tais características
revelaram-se claramente e não apenas através dos episódios da ‘Tomada da
Bastilha’, da ‘Marcha sobre Versalhes’ ou do ‘Assalto às Tulherias’. Os
numerosos emigrados franceses, incitavam as potências vizinhas a uma
intervenção armada, procurando ao mesmo tempo salvaguardar a Família Real Francesa,
quanto a previsíveis retaliações. Finalmente, depois de uma tentativa frustrada
de fuga de Luís XVI e da sua família, as potências vizinhas sentiram-se mais na
vontade de intervir. O imperador Leopoldo da Áustria e o Rei da Prússia
propuseram-se pela ‘Declaração de Pilnitz’ (1791), a restituir Luís XVI nos
seus direitos Reais. Em consequência dos preparativos bélicos nas fronteiras
francesas, Luís XVI, cuja liberdade de decisão seria duvidosa, declarou guerra
ao imperador (1792). Havia motivos para se pensar que a Família Real, tinha
entendimentos com Viena. O infeliz manifesto do General Prussiano Duque de
Brunswick (Julho de 1792), precipitou os acontecimentos.
Após o assassínio de
duas mil pessoas nas Tulherias, a República foi proclamada e Luís XVI,
destituído e condenado a execução. Também as derrotas sofridas pelas tropas
francesas nas fronteiras, serviram de pretexto ao massacre de detidos nas
prisões de Paris. Começara o Terror.
Parecia inevitável uma rápida submissão
dos revolucionários franceses, dada a desorganização do país e as forças,
externas e internas, contra eles reunidos. Contudo, após algumas derrotas
iniciais, que valeram a condenação à morte dos generais vencidos,
inesperadamente, as tropas francesas acabaram por dominar os exércitos
inimigos. O fenómeno apesar de surpreendente, tem uma explicação. Por um lado,
o perigo exterior fez substituir a anarquia revolucionária inicial, por um
Governo tão forte que a história lhe reservou a designação de “Terror”. Por outro lado, a República
Francesa, pela aquisição gratuita dos “bens
nacionais”, dispôs de avultados meios económicos para financiar a guerra. Acresce
que as coligações contra a República Francesa, como todas as alianças militares
entre Estados, criaram atritos e desentendimentos entre os respectivos chefes
políticos e militares, muitas vezes também alheados do esforço comum por
questões mantidas entre eles próprios. Mas o factor decisivo do “milagre republicano” durante as guerras
da Revolução, dá pelo nome de serviço militar obrigatório. Nem a Inglaterra,
nem a Espanha pareciam interessadas numa intervenção contra a França.
Contudo
depois de vencerem os austríacos e os prussianos em Valmy (Setembro de 1792) e
em Jemmapes (Novembro de 1792), as tropas francesas ocupam a Bélgica. Ora o
porto de Antuérpia em mãos francesas, ameaçava muito directamente os interesses,
comerciais britânicos. O Governo de Londres procurou então o apoio espanhol,
com vista a obrigar os franceses a abrirem uma segunda frente em toda a linha
dos Pirenéus. Constituiu-se assim, a primeira coligação de potências contra a
França Republicana. No quadro desta coligação, Portugal desenvolveu também ele,
actos de hostilidade contra Paris, embora sem declaração formal de estado de guerra.
O governo de Lisboa, apesar das tentativas francesas para manter a neutralidade
portuguesa, preocupado com a aliança que fora entretanto celebrada entre a
Inglaterra e a Espanha de que não fazia parte, resolveu participar na coligação
contra a França. Para o efeito celebrou dois acordos de aliança: um com a
Espanha, em Julho de 1793, e outro com a Inglaterra, em Setembro do mesmo ano. Esta
posição de beligerância face aos acontecimentos em França, levava em linha de
conta que, desta não resultariam riscos sérios para Portugal. Era previsível,
as acções bélicas decorrerem longe das fronteiras portuguesas. Também poderá o
Governo de Dom João VI, casado com a princesa espanhola Dona Carlota Joaquina
de Bourbon, que entretanto assumira as funções reais pela incapacidade da Rainha
sua mãe (Fevereiro de 1792), ter encontrado na beligerância o meio mais
adequado para pôr cobro a atitudes internas favoráveis à Revolução.
A
‘Guerra do Rossilhão’, talvez pudesse ter limitado a nossa participação na
guerra, a operações navais. Contudo, sem se ter talvez apercebido de todos os
condicionalismos e sobretudo, da fragilidade externa da política espanhola, a
corte de Lisboa enviou um corpo expedicionário para a Catalunha, onde o
exército espanhol procurava reocupar a região do Rossilhão. Ignora-se que
vantagens teriam sido oferecidas por Espanha, em contrapartida do auxílio
português prestado ao abrigo do ‘Tratado do Pardo’. É sempre muito difícil a
situação de um corpo expedicionário em território estranho. A desorganização
era total, os comandos militares dos dois países não se entendiam, as perdas
humanas elevadas e os acidentes do terreno facilitavam a posição defensiva
francesa. A saída dos ingleses do porto de Toulon, agravou e muito esta
situação. O aspecto mais doloroso para os portugueses da ‘Guerra do Rossilhão’
respeita porém, à paz separada que o ministro espanhol Manuel Godoy negociou
com a República Francesa, sem pôr Portugal ao corrente das negociações, que
tiveram lugar em Basileia (Julho de 1795). Portugal viu-se então forçado a
retirar as suas forças em condições precárias e sem qualquer negociação, em
virtude do abandono do seu aliado. Por esta intervenção sem glória nem
proveito, foram interrompidos os esforços desenvolvidos por Dona Maria I nos
planos culturais e económico, e endividado o erário público pela emissão de
empréstimos.
As
dificuldades na obtenção da paz com a França. Com o fim da ‘Guerra do Rossilhão’,
começou um longo calvário para a política externa portuguesa. Os ingleses
queriam que os ajudássemos na guerra naval e lhes mantivéssemos todos os
privilégios de comércio e navegação. Os franceses aliados aos espanhóis,
pretendiam que puséssemos termo às vantagens concedidas à Inglaterra, a fim de
nos reconhecerem o direito a viver em paz. Para agravar a situação, as vitórias
francesas em Itália, contra os austríacos e contra as tropas pontifícias,
inclinavam vários Estados para a esfera de Paris e internamente em Portugal,
davam novo alento aos partidários da Revolução. Em Outubro de 1796, a Espanha
declara guerra à Inglaterra, representando tal hostilidade novos perigos para
Portugal. Importava negociar com o Directório de Paris. E essa foi a missão extraordinária
confiada a Dom António de Araújo de Azevedo, que conseguiu finalmente, assinar um
tratado de paz com a França pelo qual nos foram impostas rectificações de
fronteiras no Norte do Brasil, uma pesada indemnização e grandes restrições ao
comércio com a Inglaterra.
Era o preço a pagar para evitarmos uma invasão
franco-espanhola. Contudo, o tratado assinado por Dom António de Araújo era incompatível com as obrigações de Portugal em relação à Inglaterra, que só
tardiamente, reconhecendo a situação desesperada da corte de Lisboa e a
temporária impotência britânica, acedeu a que fosse ratificado. E porque esta
ratificação do tratado, aliás com restrições, não foi feita de forma célere, a
França não a aceitou, sendo o diplomata português António de Araújo encarcerado
na célebre prisão parisiense do Templo. Portugal continuou a tentar negociar a
paz com a França, especialmente através da corte de Madrid.
Mas a posição desta
era dúbia, ou pelo menos, a do ministro Manuel Godoy, já preparado para invadir
Portugal e apenas receoso que o auxílio militar francês acabasse por significar
uma ocupação do território espanhol. Simultaneamente, receando nós desagradar a
Inglaterra e suscitar as suas retaliações no Ultramar, parte da esquadra
portuguesa continuava a colaborar com a armada britânica, designadamente no
bloqueio de Malta. E depois da batalha naval de Aboukir (1799), em que a
esquadra francesa ficou desmantelada, foi aos navios de guerra portugueses que
coube a missão de bloquear o porto de Alexandria, a fim de evitar o desembarque
do exército francês que Bonaparte levara ao Egipto.
Naturalmente, também este
apoio naval português ao esforço de guerra britânico, que os franceses
conheciam, dificultava as negociações de paz. Apesar do sucesso inglês em
Aboukir, o século XIX iniciou-se em termos promissores para as forças
francesas, que derrotaram os austríacos em Marengo e obrigaram a corte de Viena
a aceitar a paz. Portugal, o único aliado que restava à Inglaterra no
Continente europeu, nem matéria de negociação tinha para obter a paz com a
França. É certo que as boas relações com a corte de Madrid e as desta com o
Directório e, depois com o Consulado, nos facultavam a mediação da Espanha.
Contudo, esta desde a paz de Basileia deixava-se arrastar pura e simplesmente,
pelo governo de Paris. A sua capacidade de negociação também era débil, e não
poderíamos contar que estivesse disposta a qualquer sacrifício dos seus
interesses, em benefício de Portugal. A amizade da corte de Madrid com a de
Lisboa, servia para valorizar a posição daquela junto dos governantes
franceses, levando-os a admitir que por influência espanhola, Portugal se
afastasse da Inglaterra. Não o conseguindo, a Espanha tinha de aceitar, ainda
que porventura o fizesse com manifestos receios, o papel de agressora em
relação a Portugal, aliado de Inglaterra, com a qual a Espanha se encontrava em
guerra.
Quando Bonaparte assumiu as funções de primeiro cônsul encontrou já
formada a segunda coligação contra a França que compreendia a Inglaterra,
Áustria, Rússia, Turquia e Nápoles. A França pressionando a Espanha, procurou a
todo o custo atrair Portugal para o seu campo e como não o conseguiu, exigiu no
final de 1800, a invasão de Portugal pelas forças espanholas. Em Janeiro de
1801 a França e a Espanha, ligadas por um tratado de aliança então assinado,
enviaram um ultimato a Portugal com condições de paz inaceitáveis, intimando o
governo português a abandonar a aliança britânica e a fechar os portos
portugueses à navegação britânica, abrindo-os aos navios franceses e espanhóis.
A França exigia ainda uma elevada indemnização em dinheiro e a Espanha a
revisão das fronteiras e a entrega de algumas províncias como garantia da
devolução pela Inglaterra das ilhas Trindade, Mahon e Malta. Como Portugal não
se submeteu a tais condições, a guerra é declarada pela Espanha e as suas
tropas invadem a partir de Badajoz o Alto Alentejo, donde ocupam diversas
praças, uma das quais Olivença. A guerra que durou apenas duas semanas, ficou
conhecida pela “guerra das laranjas”.
O ministro Luís Pinto de Sousa, perante o
avanço das forças franco-espanhola foi pessoalmente a Badajoz, para negociar
com os seus homólogos. Destas negociações resultaram o tratado de paz e amizade
com a Espanha, assinado em Badajoz em Junho de 1801 e, por mediação espanhola,
o tratado de paz com a França, da mesma data. Por estes tratados Portugal
comprometia-se a fechar os portos aos navios britânicos e abri-los aos
franceses e seus aliados, devendo a Espanha restituir as praças tomadas, salvo
Olivença. Portugal teria de pagar à França uma indemnização de 15 milhões de
libras, aceitar as fronteiras da Guiana até à foz do rio Arawani e autorizar a
importação de lanifícios franceses no regime da nação mais favorecida. Em Paris
entendeu-se que algumas das cláusulas do tratado de Badajoz, deveriam ser
revistas e agravadas e assim um novo tratado foi negociado em Madrid e assinado
em Setembro de 1801. Por este tratado, os limites da Guiana foram fixados no
rio Carapanatuba e a indemnização a pagar à França, foi fixada em 20 milhões de
libras. Contudo, é abandonada a ideia de ocupação de províncias
portuguesas por parte de Napoleão. Nesse ponto Manuel Godoy mostrou-se
favorável a Portugal, tendo-se oposto a que tropas francesas atravessassem
Espanha para irem ocupar o Porto. Embora tardiamente, o ministro espanhol
começava a aperceber-se dos perigos da aproximação à França.
A
Paz precária, manteve-se o estado de guerra entre a França e a Inglaterra. A
Europa estava dominada pelo poderio militar francês, com a Espanha como estado
aliado da França. Para Portugal, este cenário resultou num período de
humilhantes dependências, procurando evitar a todo o custo, uma ocupação
militar estrangeira. Portugal viu-se forçado a manter uma política externa de
declarada duplicidade, o que aliás se verificava em todo o quadro das relações
internacionais da época. Depois da obtenção da paz com a França, Portugal
passou a ser representado em Paris pelo Morgado Mateus e pelo seu lado, a
França em Lisboa pelo general Lannes. A escolha francesa assumiu
particularidades interessantes, uma vez que pelas suas características,
resultou em grandes dificuldades para os governantes e membros da família real
portuguesa, que procurou não desagradar ao cônsul Bonaparte, cujo poder
significava uma ameaça constante para Portugal. A pedido de Lannes, foram
inclusive afastados ministros e altos funcionários portugueses, encarados como
desfavoráveis à França: “Sem qualquer
preparação para a diplomacia, apenas bom companheiro de armas e dedicado a Napoleão,
Lannes seria odiado pela corte e pela população. A sua estada entre nós
traduziu-se em actos de contrabando, no roubo de objectos de valor e em
conflitos pessoais, além de uma constante intromissão nos actos do Governo.
Ainda que não directamente, ficou ligado aos “motins de Campo de Ourique”, que
ocorreram no Dia de Corpo de Deus de 1803 e agitaram Lisboa.” Desde 1803, a
Espanha ficara condicionada à situação de estado tributário de França, pagando
uma renda mensal de seis milhões de francos, como preço de não ser invadida.
A
neutralidade portuguesa foi comprada por dezasseis milhões de libras e diversas
vantagens para o comércio francês. Por seu lado, a Inglaterra, não podendo
garantir-nos apoio efectivo, tentava manter a sua influência em Portugal, por
vezes ao ponto de comprometer a posição de neutralidade portuguesa. Já
imperador, Napoleão manifestou ao príncipe D. João, a convicção da validade de
uma parceria para fazer face aos ingleses. No entanto, o príncipe português não
aceitou a proposta de aliança contra Inglaterra. Esta recusa portuguesa poderia
ter provocado uma invasão de tropas francesas logo em 1805, não fora as fortes
baixas nas esquadras francesa e espanhola na Batalha de Trafalgar. Apesar de
limitado quanto às zonas marítimas devido à superioridade naval inglesa,
Napoleão conseguia algumas compensações no continente, derrotando os prussianos
em Iena. Já em Berlim, Napoleão decretou o estado de bloqueio às ilhas
britânicas, considerando todo o comércio e correspondência com aquelas ilhas
proibidos. A própria Rússia aceitou o bloqueio Continental. De forma a garantir
o completo isolamento de Inglaterra, era preciso encerrar também os portos da
Dinamarca, Suécia e Portugal. Nesse sentido, foi exigido a Portugal declarar
imediatamente guerra à Inglaterra, fechar os portos ao comércio inglês e juntar
as esquadras portuguesas às das potências continentais. D. João viu-se obrigado
a declarar guerra à Grã-Bretanha. Apesar desta posição portuguesa, Napoleão
ordenou que se mantivesse a marcha com destino a Portugal. Não seria possível
evitar a invasão, apesar de todos os esforços diplomáticos dos portugueses. A
27 de Outubro de 1807, foi assinado um tratado franco-espanhol, determinando o
desmembramento de Portugal. No mesmo tratado, Napoleão reconheceu o rei de
Espanha como imperador das duas Índias e o estabelecimento de que a França e
Espanha partilhariam entre elas os domínios ultramarinos de Portugal. Os
estados que resultassem do desmembramento de Portugal, passariam a
protectorados do rei de Espanha. Portugal não conseguiu evitar a ocupação
estrangeira, apesar de todo o seu posicionamento diplomático. Evitando a
simples submissão ao invasor, a corte portuguesa partiu para o Rio de Janeiro,
garantindo a continuidade da soberania portuguesa. Para Inglaterra, esta
partida da corte portuguesa para o Brasil, teve várias vantagens. Aumentou a
hostilidade local aos franceses, evitou que a frota portuguesa caísse nas mãos
do inimigo, e permitiu que os portos do Brasil fossem abertos ao comércio inglês
pelo tratado de 1807.
A
ocupação estrangeira de Portugal participaram não só tropas francesas como
também espanholas. Os políticos espanhóis receavam os efeitos da travessia de
Espanha por tropas francesas com destino a Portugal. Estes receios tiveram fundamento
porquanto as tropas francesas trataram as populações espanholas como inimigas e
também como inimigas, por elas foram recebidas. A aliança franco-espanhola,
transformou-se em ocupação militar e acabou inclusive por resultar na colocação
no trono de Madrid, do irmão do imperador, José Bonaparte. Sucedeu-se um
generalizado movimento insurreccional espanhol contra os franceses. Os
espanhóis tomaram nessa altura consciência, que tal como os portugueses, se
encontravam em regime de ocupação militar estrangeira. Os movimentos
insurreccionais que eclodiram por toda a Espanha, facilitaram as reacções
portuguesas contra as forças de ocupação e as operações militares das tropas
inglesas em vários pontos da costa peninsular. As guerrilhas portuguesas e
espanholas, constituíram um grande desgaste para a “máquina” militar napoleónica. Assistiu-se finalmente a um consenso
antifrancês e a uma intervenção militar inglesa no Continente, que culminou na
expulsão dos franceses do território. Depois de expulsos os franceses, e devido
às circunstâncias em que se encontrava o país, foi o comando das tropas
portuguesas entregue ao inglês Beresford. Sob este comando, o exército
português foi rigorosamente organizado e disciplinado. Não obstante, a situação
mantinha-se difícil, estando um corpo do exército francês em Salamanca e outro
na Estremadura espanhola, prontos para invadir de novo Portugal. A sul
continuava a reorganização, treino e equipamento das tropas portuguesas. Também
em 1810, foi aprovado na Câmara dos Comuns e na dos Lordes, o apoio militar
inglês a Portugal. As tropas francesas continuavam a devastar o país, apesar de
nunca terem conseguido passar as linhas de Torres Vedras, acabando por
abandonar Portugal no início de 1811.
A guerra continuou durante três longos
anos, mas já fora das fronteiras portuguesas. Napoleão foi finalmente deposto e
conseguiu-se a Paz Geral, sendo naturalmente necessário dar-lhe expressão
jurídica, através de um Tratado. Apesar de as potências coligadas poderem ter
imposto duras condições, limitaram-se a reduzir a França às fronteiras de 1792,
garantindo a Napoleão e aos membros da sua família títulos, rendas e capitais
elevados. Tratava-se de um tratado de paz extremamente generoso para os
vencidos. Com alguma ingenuidade, as tropas aliadas terminaram rapidamente a
ocupação de França, deixando para trás, armadas e equipadas as tropas do
império de Napoleão. Nestas condições, bastou que Napoleão regressasse da ilha
de Elba e novamente a guerra incendiou a Europa. Foram cem dias que significaram
milhares de mortes. Novamente Paris e outras cidades francesas foram ocupadas
por ingleses e prussianos e desta vez, em condições menos benévolas para os
vencidos. O novo tratado de paz, assinado a 20 de Novembro de 1815, já não foi
tão favorável a França, garantindo o pagamento de elevadas indemnizações aos
vencedores, bem como a ocupação militar estrangeira das fortalezas francesas do
norte e do leste, durante cinco anos.
‘Congresso
de Viena’, ficou estabelecido no ‘Tratado de Paris’ que se reunisse em Viena um
congresso, para discussão e definição das bases da paz, relativamente a todos
os aspectos não contemplados naquele Tratado, mas obedecendo às regras nele,
estabelecidas: “O Tratado de Paris,
assinado a 30 de Maio de 1814, entre Luís XVIII e a Áustria, a Prússia, a
Rússia, a Grã-Bretanha, a Espanha e Portugal, estabelecia no seu último artigo
que – dans l‘intervalle de deux mois un congrés général se réunirait à Vienne
entre toutes les puissances engagées dans la guerre pour régler les arrangements
destinés à compléter le traité de Paris”. A oposição entre os dois mais
poderosos Estados vencedores, a Grã-Bretanha e a Rússia, deu à Áustria um papel
de relevo. O austríaco Metternich, ministro do imperador Francisco II, soube
magistralmente aproveitar o Congresso, apresentando Viena como o centro da
Europa vitoriosa sobre o bonapartismo. Tratou-se de um Congresso de grande
impacto e importância internacional. Nunca anteriormente se tinham reunido
representantes de tantos Estados com o objectivo de solucionar problemas
comuns. Também assumiu particular relevo o respeito dos vencedores pelos
vencidos. A boa vontade e benevolência dos vencedores em Viena, está sobretudo
relacionada com o desejo de paz, não apenas dos congressistas, como também dos
povos por eles representados.
É nítida no ‘Congresso de Viena’, a nostalgia de
uma comunidade europeia. Também é de realçar o estado de espírito e atitude do ‘Congresso
de Viena’, relativamente à abolição da escravatura. Para além dos interesses
materiais e políticos ligados à abolição, sublinha-se acima de tudo o respeito
pela dignidade dos seres humanos. O ‘Congresso de Viena’ manteve-se a um nível
superior de defesa da paz e dos interesses dos povos. Formaram-se dois blocos:
a Áustria alinhando com a Inglaterra e a Prússia com a Rússia. Deste cenário
tirou benefícios a França e o seu representante Tayllerand, que acabou por se
tornar árbitro do Congresso, quando a Inglaterra e a Áustria dele precisaram
para limitar as ambições russas e prussianas, relativamente à Polónia e a Saxe:
“No entanto logo de início, não se
mostraram idênticos os critérios desses quatro países, sobre a divisão que
havia a fazer, abrindo-se assim uma brecha por onde passou Tayllerand, que com
uma acertadíssima visão e com uma extraordinária táctica diplomática, conseguiu
modificar por completo o jogo, no complicado xadrez da política europeia de
então, e colocar a França derrotada, num lugar de destaque entre as grandes
nações”. Tayllerand soube com grande perícia diplomática posicionar-se
perante as quatro grandes potências, tornando-se passado pouco tempo após o
início da assembleia, um elemento indispensável à Áustria e à Inglaterra contra
as ambições da Prússia e da Rússia. Por seu lado, a Inglaterra, no apogeu do
seu poder colonial e marítimo, ambicionava inutilizar as duas nações que lhe
podiam fazer sombra, designadamente, a França e a Rússia. A França pelo seu
comércio e pela sua marinha e a Rússia, pelos seus desejos de expansão para
Oriente. Relativamente à Áustria, tinha também o mesmo interesse que a
Grã-Bretanha, de limitar o poder da França e da Rússia, mas divergia da
Inglaterra quanto à Prússia, uma vez que queria conservar o seu domínio sobre
os estados alemães. Ao iniciarem as conferências de Viena, existiam nitidamente
definidos, dois grandes partidos: de um lado a Grã-Bretanha e a Áustria, do
outro a Rússia e a Prússia. Nestas circunstâncias, os Estados de menor peso
internacional, estavam assim à mercê das quatro grandes potências, preocupadas
fundamentalmente com a salvaguarda dos seus desejos.
Portugal
no ‘Congresso de Viena’, assumiu contornos particularmente interessantes.
Portugal esteve representado no Congresso por Pedro de Sousa Holstein, António
Saldanha da Gama e Joaquim Lobo da Silveira, com base nas instruções da corte
do Rio de Janeiro, que desconhecia ainda o teor do artigo 10º do Tratado de
Paris de 30 de Maio. Este artigo 10º previa a retrocessão da Guiana Francesa.
Quando dele tiveram conhecimento, a corte portuguesa negou-se a ratificar o
Tratado. Ao ter conhecimento do Tratado de Paris, pelo qual, no seu artigo 10º
Portugal se via obrigado a restituir a Guiana à França, resolveu que o Príncipe
Regente o não ratificasse. Mais tarde, acabaram por transigir, aceitando a
cedência da Guiana. No entanto, conseguiu-se em Viena uma redefinição da
fronteira com a França na América. Relativamente a Olivença, foi reconhecido a
Portugal, o direito à respectiva devolução. Os plenipotenciários de Portugal,
esforçaram-se por conseguir o apoio das potências na questão de Olivença,
conseguindo que no artigo 105º do Acto final se declarasse: “As Potências reconhecendo a justiça das
reclamações feitas por Sua Alteza Real o Príncipe Regente dos Reinos de
Portugal e Brasil sobre a praça de Olivença e outros territórios cedidos a
Espanha pelo Tratado de Badajoz de 1801, e considerando a restituição destes
objectos como uma das providenciais próprias para assegurar entre os dois
reinos da Península a boa harmonia, completa e permanente, cuja conservação em
todas as partes da Europa tem sido o fim constante das suas negociações,
comprometem-se formalmente a empregar, por meios reconciliatórios os seus
esforços mais eficazes, para que se efectue a retrocessão dos ditos territórios
a favor de Portugal: e as Potências reconhecem, cada uma tanto quanto delas
depende, que este ajuste deve realizar-se o mais cedo possível.” Apesar de
tudo, não pode falar-se em grandes êxitos diplomáticos de Portugal em Viena.
Portugal terminou o Congresso mais pobre de bens e território. Acaba por ser
natural, devido à situação política, económica e militar de Portugal, sendo
difícil obter melhores resultados perante potências com maior poder de
negociação: “Nas negociações
internacionais, como, aliás, em quaisquer outras, pesam bastante mais os
serviços esperados do que os serviços prestados”. Sinal disso era por exemplo
o facto de ser com a Inglaterra que as outras potências procuraram entender-se
quando pretendiam qualquer coisa de Portugal. Não podemos no entanto
esquecer-nos da débil política exterior portuguesa durante todo o período
napoleónico, da situação das pequenas nações no Congresso de Viena, para
podermos perceber o alcance do “pouco”
que que se conseguiu, admirando o esforço dos diplomatas de Portugal que
permitiram uma posição de destaque naquelas importantes assembleias, onde
naturalmente assumiam preponderância a voz e vontade das grandes potências.
Portugal
tinha assinado dois tratados com a Grã-Bretanha, a 19 de Fevereiro de 1810. Um
deles era sobre o comércio e navegação, e foi altamente negativo para a
economia de Portugal. O outro era de aliança e de amizade. Os representantes
portugueses em Viena, promoveram com veemência a sua anulação, apesar da
dificuldade que isso representava considerando os interesses ingleses em jogo,
sendo naturalmente recusado por Castlereagh, representante britânico, numa das
conferências realizadas com os plenipotenciários de Portugal. Os representantes
portugueses, argumentavam que o tratado de comércio e de navegação de 1810, só
tinha sido posto em vigor por Portugal, uma vez que a Inglaterra tinha sempre
evitado o seu cumprimento, quando se tratava dos seus interesses. Também se
tratava de grande importância conseguir a anulação das cláusulas de aliança e
amizade da mesma data, que impunham a Portugal a cedência ao governo britânico
por cinquenta anos, das colónias de Bissau e Cacheu, desde que por influência
inglesa se conseguisse a restituição de Olivença e Juromenha. A actividade dos
representantes portugueses, permitiu o artigo III do tratado assinado em Viena
a 22 de Janeiro de 1815, que declarava nulo a aliança e de amizade, ficando em
vigor o de comércio e navegação em vigor até 1835. O Tratado de aliança e
amizade assinado no Rio de Janeiro em 1810, estabelecia no seu artigo 10º que “Sua Alteza Real o Príncipe Regente de
Portugal, estando plenamente convencido da injustiça e má política do comércio
de escravos...adoptando os mais eficazes meios para conseguir em toda a
extensão dos seus domínios uma gradual abolição do comércio de escravos...o
Príncipe regente de Portugal obriga a que aos seus vassalos não será permitido
continuar o comércio de escravos em outra alguma parte da costa de África, que
não pertença actualmente aos domínios de sua Alteza Real”. A questão da
proibição do tráfico da escravatura era de grande importância para Inglaterra.
Depois de longas negociações, os representantes portugueses em Viena,
conseguiram que no tratado de 22 de Janeiro de 1815, se estabelecesse, ficar
apenas obrigado Portugal a proibir o tráfico de escravos ao norte do equador.
A
Revolução Francesa constituiu um dos grandes marcos da história, com efeitos
políticos, sociais, económicos e culturais que se mantiveram até à actualidade.
Também Portugal se viu naturalmente envolvido nas movimentações do xadrez das
relações internacionais e sentiu o efeito da Revolução de Paris, que se
estendeu por várias nações. Portugal não conseguiu evitar o envolvimento nos
conflitos internacionais resultantes da Revolução Francesa e do Império
napoleónico, em virtude da vizinhança e dos laços que o prendiam à Espanha e à
Inglaterra. Não obstante todo o esforço de posicionamento diplomático
internacional, tentando garantir uma posição de neutralidade e afastamento, não
foi possível a Portugal evitar a marcha de Napoleão com destino ao território
nacional. Evitando a simples submissão ao invasor, a corte portuguesa partiu
para o Rio de Janeiro, garantindo a continuidade da soberania portuguesa, e daí
gerindo a política externa nacional. O papel da diplomacia portuguesa durante
estes longos anos de crise foi fundamental, apesar de nem sempre ter atingido
os melhores resultados. Mas foi seguramente um bom exemplo de capacidade e
tenacidade, que uma pequena nação deu ao mundo, assumindo uma posição de
destaque no seio das negociações diplomáticas entre as grandes potências e
procurando, na medida, do possível, salvaguardar a sua posição e interesses de
Estado.













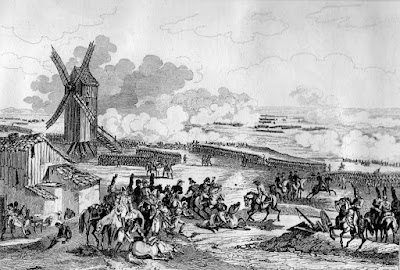





















Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.